 Faz agora (exactamente a 30 de Outubro) vinte anos que foi publicado o meu primeiro artigo na imprensa nacional. Saiu no "Expresso - Revista", a convite do José Vítor Malheiros (hoje no "Público"), e era uma recensão do livro "A Nova Aliança" de Ilya Prigogine (na foto, o famoso químico que morreu em 2003) e Isabelle Stengers. Republico-o aqui sem mudar nada:
Faz agora (exactamente a 30 de Outubro) vinte anos que foi publicado o meu primeiro artigo na imprensa nacional. Saiu no "Expresso - Revista", a convite do José Vítor Malheiros (hoje no "Público"), e era uma recensão do livro "A Nova Aliança" de Ilya Prigogine (na foto, o famoso químico que morreu em 2003) e Isabelle Stengers. Republico-o aqui sem mudar nada:É bem conhecido o aforismo de Santo Agostinho: «
Se não me perguntarem o que é o tempo, então eu sei o que é o tempo; mas se me perguntarem o que é o tempo, então eu não sei o que é o tempo.» Ilya Prigogine, Prémio Nobel da Química de 1977, professor da Universidade Livre de Bruxelas e da Universidade de Austin, no Texas, tem passado a vida a investigar o tempo, a procurar «saber» o que este é. É de um novo conceito do tempo - um tempo dinâmico, um tempo onde o futuro é radicalmente diferente do passado, para o melhor e para o pior - que ele, juntamente com a sua colaboradora Isabelle Stengers, nos fala neste livro.
Livro denso, de leitura nem sempre fácil, aborda o tempo numa perspectiva temporal. Trata-se antes de mais da história do tempo. Da história da física e da química do tempo. Pode-se dizer que a física começou com Newton que, no momento fundador que a lenda associa à maçã e à Lua, se apercebeu de que os fenómenos dos céu eram regidos pelas mesmas leis que os fenómenos da terra. O tempo dos céus era portanto o mesmo que o tempo da terra; um tempo absoluto, que flui uniformemente em todo o sítio. Inaugurava-se assim a era do determinismo mecanicista, cuja omnipresença, a partir de então, na ciência moderna está relacionada com o prestígio de Newton e das suas teses.
Não deixa de ser paradoxal o facto de um dos fundadores do cálculo de probabilidades ter sido precisamente Laplace, o mais determinista de todos os deterministas, aquele que ousou afirmar a Napoleão que não precisava da hipótese de Deus para formular a sua mecânica celeste. A noção de probabilidade faz a sua entrada na física do século XIX com Maxwell e Boltzmann. De acordo com Boltzmann, a evolução do passado para o futuro faz-se por espalhamento da desordem, ou, em linguagem técnica, aumento da entropia. Boltzmann é talvez o melhor exemplo dos muitos cientistas que viveram dilacerados pela contradição entre determinismo e incerteza, entre a mecânica e termodinâmica. Há quem diga até que o seu suicídio em 5 de Setembro de 1906 se deveu a esse facto.
O momento da morte de Boltzmann marca o triunfo da probabilidade no estudo de sistemas complexos, por muito que ela seja incompatível com a mecânica newtoniana (Prigogine e Stengers lembram-nos que o é!). Mas se alguém pensasse, nos finais do século XIX, que no mundo microscópico, supostamente simples, ainda havia algumas résteas de determinismo, enganava-se.
No começo do século XX surge, com a mecânica quântica, o paradigma da incerteza aplicado ao mundo microscópico. Os físicos, quase todos, habituaram-se desde então a viver com ela. Houve contudo um, o maior de todos, que não se habituou. Einstein ficou como o último dos deterministas. Se é verdade que a sua teoria da relatividade tem reminiscências da teoria quântica, no sentido em que ambas falam de observadores, não é menos certo que para Einstein, ao contrário de Bohr, existia um mundo real, independente dos observadores e da observação.
Mas o que era o tempo para Einstein? Uma «ilusão, ainda que persistente», que ele próprio o afirmou (numa carta por ocasião da morte do seu amigo M. Besso, escreveu: («
Michael precedeu-me por pouco ao deixar este mundo estranho. Isso não tem importância. Para nós, físicos convictos, a distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão, ainda que persistente.») E para Bohr? Será que a nova mecânica é compatível com a termodinâmica, permitindo distinguir o passado do futuro? Prigogine e Stengers lembram-nos também que não, que a mecânica, não importa se clássica se quântica, não permite estabelecer o sentido da seta do tempo.
Então o tempo não existe? Toda a experiência à nossa volta ensina-nos que existem, em particular e mais do que todas, as experiências radicais do nascimento e da morte. Todos nascemos e morremos, e, como Santo Agostinho, temos a noção do que é o tempo, se ninguém nos colocar na posição incómoda de a explicitar. As experiências da Terra, do Sol, da galáxia, são um pouco semelhantes à nossa, no sentido em que, apesar de inanimados, também nasceram um dia e um dia vão «morrer».
Prigogine, um dos maiores especialistas da física dos processos irreversíveis, tem alguma experiência com o tempo, sabe que existe e que a sua função é não só destrutiva como sobretudo construtiva (no século XIX, os tementes da morte térmica do Cosmos pensavam que o tempo era apenas destruidor, mas já Darwin na mesma altura sabia que o tempo é também o «Grande Construtor»). É essa experiência que Prigogine e Stengers nos pretendem transmitir nos últimos capítulos do livro, quando falam da possibilidade, ou melhor da necessidade em certas circunstâncias, do aparecimento de estruturas ordenadas. Com efeito, os sistemas não isolados estão abertos à inovação e em certas e determinadas condições podem transformar-se no sentido da ordem. O mecanismo proposto pela escola de Bruxelas é a chamada «ordem por flutuação», segundo a qual um sistema longe do equilíbrio tem a possibilidade de seguir muitos caminhos, a maior parte dos quais divergentes. Nas bifurcações, um pequeno ruído pode levar a que o sistema se encaminhe para uma história radicalmente nova. De acordo com essa interpretação, o tempo é feito de necessidade (caminhos múltiplos) e acaso (ruído), sendo o resultado (transformação, história) bem real.
Falamos de acaso e necessidade, os «ingredientes gregos» retomados por Jacques Monod no contexto da biologia molecular. Deve realçar-se que este casamento fecundo do caos com a ordem constitui um paradigma em emergência, com uma relevância cada vez maior na ciência contemporânea. Cada autor gosta de usar o seu próprio vocabulário e pretende a prioridade no perscrutar de tal ou tal aspecto. Mas, no fundo, todos falam do mesmo, todos estão confrontados com uma realidade que se compraz na repetição, qualquer que seja a escala ou o sistema observado. Assim, se Prigogine fala de «ordem por flutuação» e de «estruturas dissipativas», H. Haken, físico da Universidade de Stuttgard, na Alemanha, prefere falar de «sinergética» neologismo por ele criado para significar comportamento cooperativo, sendo o seu modelo preferido o laser. M Eigen, professor em Gottingen, Prémio Nobel da Química em 1967, prefere falar em «jogo», sendo um dos seus campos de trabalho a origem da informação genética dos seres vivos (a Gradiva editou em 1988, de M. Eigen e R. Winkler, o seu livro de divulgação mais conhecido, intitulado precisamente "
O Jogo"). Outros têm outras linguagens e servem-se de outros exemplos.
Todos eles, porém, são afinal parceiros no jogo da descoberta dos fenómenos complexos, jogo em pleno desenvolvimento e que vai entrando nos manuais de ciência, outrora ocupados com os sistemas simples. Prigogine, no entanto, consegue ir além do domínio estrito da sua especialidade, arriscando a tese de que o que é válido para a complexidade químico-física é também válido, ou pelo menos útil, para a complexidade que é objecto de estudo das ciências ditas humanas - a sociologia, a história, a filosofia. O título do livro "
A Nova Aliança" pretende resumir essas novas possibilidades de confronto e de síntese entre as ciências exactas e as ciências humanas. Se nos anos 60 C. P. Snow contrapunha Shakespeare e a segunda lei da termodinâmica, dizendo que era sinal de incultura desconhecer tanto um como a outra, Prigogine e Stengers vêm-nos dizer que a segunda lei e os desenvolvimentos recentes da física moderna talvez nos possam ajudar a compreender Shakespeare. Para fornecer apenas uma ilustração, vejamos como Bohr utiliza o castelo do Hamlet numa bela metáfora sobre o facto de na mecânica quântica a realidade depender do observador (a citação é retirada da tradução inglesa de
"A Nova Aliança, Order out of Chaos, Man´s New Dialogue with Nature", Bantam Books, 1984, que apresenta mais modificações e acrescentos em relação ao original francês):
«Não é estranho como este castelo muda logo que imaginamos que Hamlet viveu aqui? Como cientistas, acreditamos que um castelo consiste em pedras e admiramos o modo como o arquitecto as reuniu. As pedras, o telhado verde devido à pátina, a talha de madeira na igreja, constituem o castelo. Nada disto devia ser modificado pelo facto de Hamlet ter vivido aqui, e no entanto é completamente modificado. Subitamente as paredes e as muralhas falam uma outra linguagem...Tudo o que sabemos sobre Hamlet é que o seu nome é referido numa crónica do século XIII...Mas toda a gente conhece as questões que Shakespeare tinha para ele colocar, as profundidades humanas que tinha para ele revelar, pelo que Hamlet também tinha de ter um lugar na Terra, aqui em Kronberg.»
Hoje em dia, já não é só a física que tem a aprender da sua história, mas são a própria história e a literatura, que, salvaguardando tudo o que há a salvaguardar, têm a aprender com a física. O leitor, se pretende ser também parceiro, ainda que modesto, nesse jogo da descoberta da complexidade, deve ler "
A Nova Aliança"! Leia devagar, sublinhando, não se importando com o que não percebe (alguns tradutores brasileiros também não perceberam...) e descontando as gralhas que maldosamente caíram aqui e ali, principalmente onde não deviam. E no fim, conclua com Prigogine e Stengers:
«Chegou o tempo de novas alianças, desde sempre firmadas, durante muito tempo ignoradas, entre a história dos homens, de suas sociedades, de seus saberes, e a aventura exploradora da natureza.»Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, "
A Nova Aliança", Gradiva, 1987
Tradução brasileira de M. Faria e M. J. M. Trincheira, revista por J. P. Mendes e J. Branco, com tradução do prefácio e dos apêndices da 2ª edição francesa da Gallimard, de 1986, respectivamente por A. M. Baptista e A. I. Buescu.
 O doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa causada por um distúrbio nas vias dopaminérgicas que fazem a ligação entre a substância nigra e o gânglio basal, acompanhada por uma diminuição dos níveis do neurotransmissor dopamina.
O doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa causada por um distúrbio nas vias dopaminérgicas que fazem a ligação entre a substância nigra e o gânglio basal, acompanhada por uma diminuição dos níveis do neurotransmissor dopamina.


















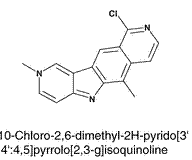

.jpg)



